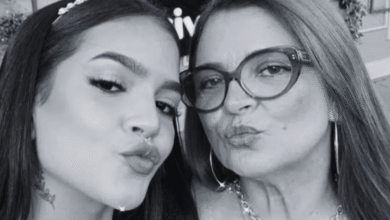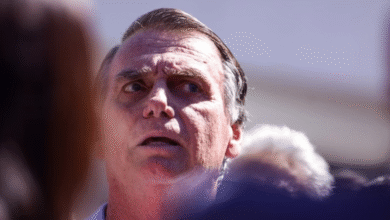Cidade do sertão que criou sua lei e desafiou a República

No final do século XIX, no sertão da Bahia, brotou uma comunidade que se autodenominava Belo Monte — um verdadeiro “país” dentro do Brasil. Conhecido pelos críticos como Arraial de Canudos, esse lugar não era apenas um abrigo para radicais religiosos, mas um projeto social e econômico autônomo. Com suas próprias leis e uma economia que priorizava a partilha, Belo Monte atraiu milhares de excluídos e prosperou longe do recém-estabelecido governo republicano.
A simples existência de Belo Monte incomodou bastante a elite agrária, a Igreja e o governo. Para eles, essa era uma ameaça intolerável. O Estado respondeu com uma das campanhas militares mais brutais da história brasileira, que culminou em um massacre. A narrativa de Canudos, eternizada na famosa obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha, revela as contradições de um país que, em nome da “civilização”, aniquilou um modelo de vida alternativo e autossuficiente, que nasceu do abandono.
O caldeirão do sertão: por que Canudos nasceu?
Canudos não surgiu do nada; foi o resultado da falência do Estado no sertão nordestino. A região enfrentava uma crise profunda, marcada por secas constantes, fome e um sistema político opressor que favorecia os latifundiários. A terra estava nas mãos de poucos “coronéis” que mantinham o controle como se fossem senhores feudais.
A situação se agravou com dois eventos significativos: a obra da Abolição da Escravatura em 1888, que, apesar de sua importância, não trouxe políticas de inclusão, deixando muitos libertos em desamparo; e a Proclamação da República em 1889, que, para os sertanejos, significou novos impostos e leis seculares. Esse vácuo de poder e esperança abriu espaço para a proposta de Belo Monte.
Antônio Conselheiro: o arquiteto da “Terra Prometida“
O protagonista dessa história foi Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Conselheiro. Nascido no Ceará e com uma educação formal rara na época, Conselheiro abandonou sua vida anterior após dificuldades pessoais e começou uma longa peregrinação pelo sertão. Ele não era apenas um pregador místico; se tornou um verdadeiro organizador comunitário. Ele liderava mutirões para construir igrejas, açudes e cemitérios, preenchendo o vazio deixado pela falta de ação do Estado e da Igreja.
Sua ideologia misturava messianismo católico com críticas sociais incisivas. Ele falava sobre o fim do mundo, mas também denunciava a República e seus impostos como ilegítimos. Essa mensagem ressoou entre os que mais padeciam: ex-escravizados, indígenas e jagunços. A promessa de Belo Monte como um lugar de salvação e justiça se tornou uma luz na escuridão da opressão.
Belo Monte: como funcionava o “país” autônomo?
Em 1893, Conselheiro e seus seguidores estabeleceram-se na antiga Fazenda Canudos, renomeada como Belo Monte. O crescimento da comunidade foi rápido; em quatro anos, a população saltou para cerca de 25.000 a 30.000 pessoas vivendo em aproximadamente 5.200 casas. Belo Monte se tornou uma das maiores cidades da Bahia e um refúgio para todos os marginalizados.
O verdadeiro desafio representado por Canudos era sua organização interna. Politicamente, funcionava como uma teocracia, com Conselheiro à frente e apoiado por um conselho e uma milícia, a “Guarda Católica”. Economicamente, a comunidade seguia princípios de ajuda mútua. Trabalho em grupo e a criação de uma “caixa-comum” garantiam apoio aos doentes e necessitados.
Esse modelo social alternativo provou que os deserdados poderiam prosperar sem a estrutura dos latifúndios. Esse movimento gerou uma escassez de mão de obra nas fazendas, ameaçando diretamente os interesses dos coronéis. A existência de Canudos não era só uma ofensa religiosa ou um desafio político; era uma ameaça econômica que tinha que ser eliminada.
A guerra total: as quatro expedições de extermínio
O conflito começou por um motivo trivial, uma disputa sobre uma entrega de madeira, mas as raízes da guerra estavam no medo das elites. A propaganda oficial logo rotulou os conselheiristas de “monarquistas fanáticos”. As quatro expedições militares que se seguiram foram cada uma mais brutal que a anterior.
As duas primeiras expedições enfrentaram derrotas humilhantes. Os soldados não compreenderam a determinação dos sertanejos que lutavam por suas vidas e sua fé. A terceira expedição, em março de 1897, foi um desastre maior ainda. O Coronel Moreira César, um “herói” da República, foi morto e suas tropas, em desespero, abandonaram armas modernas para os defensores de Canudos.
A humilhação da derrota fez com que a quarta expedição, que ocorreu entre junho e outubro de 1897, se transformasse em uma operação de guerra total. Mobilizou cerca de 10.000 soldados e utilizou artilharia pesada. Belo Monte foi bombardeada até ser reduzida a escombros. A resistência dos canudenses foi corajosa, mas em 5 de outubro de 1897, os últimos defensores caíram, e o que se seguiu foi um massacre sistemático de prisioneiros.
O legado em ‘Os Sertões’: o crime visto por dentro
A tragédia de Canudos foi registrada pelo cronista Euclides da Cunha, enviado para cobrir o conflito. Partindo do Rio de Janeiro, ele tinha preconceitos sobre os sertanejos, mas o que viu transformou sua visão e chocou o país. Publicado em 1902, “Os Sertões” se tornou um marco sobre o conflito.
A obra é complexa. Euclides tentou explicar os sertanejos como “inferiores” devido à miscigenação e ao meio hostil, mas sua honestidade enquanto testemunha o obrigou a descrever a selvageria do Exército, contrastando-a com a coragem dos defensores de Canudos, a quem ele chamou de “fortes”.
Mais de um século depois, a história de Canudos ainda é uma ferida aberta, simbolizando as lutas do Brasil: a divisão entre litoral e sertão, a violência da concentração de terras e a guerra histórica do Estado contra sua própria população pobre.